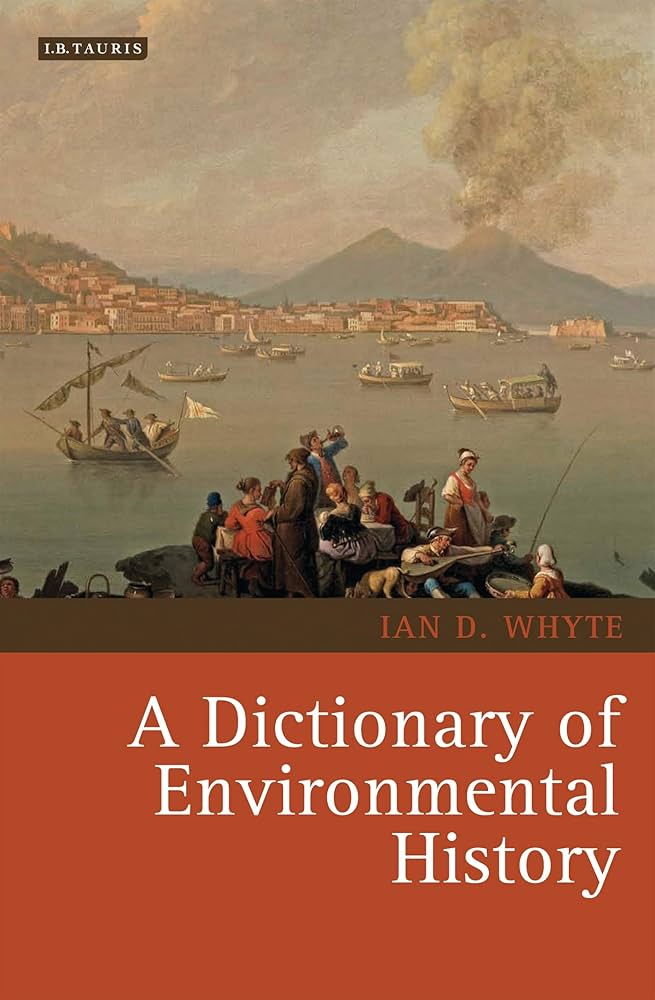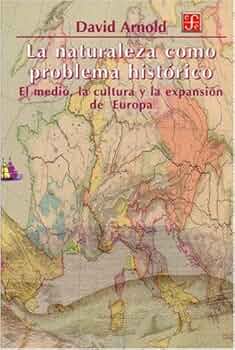A imagem que temos da colonização do Vale do Itajaí é, muitas vezes, a de um épico. Retrata pioneiros heroicos que, com coragem e trabalho duro, dominaram uma natureza selvagem para fundar cidades prósperas. No entanto, relatos da época, quando lidos com um olhar crítico, revelam uma realidade muito mais crua, complexa e, por vezes, contraditória. O texto Flagrantes da História de Rio do Sul, escrito por Victor Lucas em 1959, é uma janela rara para esse passado.
Mais do que uma simples crônica, o relato de Lucas nos convida a explorar como uma cidade nasce da violenta interação entre a ambição humana e um ambiente ativo e resistente. Baseando-nos em seu testemunho e em análises modernas sobre ele, vamos revelar cinco fatos que desconstroem a narrativa tradicional e expõem o complexo "metabolismo socioambiental" da colonização: o processo pelo qual florestas foram convertidas em fazendas, rios em estradas e perigos, e territórios indígenas em propriedade colonial.
Apontamento 1
A vida dos primeiros colonos no Alto Vale do Itajaí era um paradoxo. Eles viviam sob a ameaça constante da malária, de acidentes nas derrubadas da mata, de ataques de animais peçonhentos e de um violento conflito territorial. Contudo, em meio a tantos perigos, uma coisa era praticamente inexistente: a fome. Victor Lucas descreve uma natureza de riqueza e fauna impressionantes, um ecossistema que ainda não havia sido esgotado pela ocupação intensiva. A caça (macuco, jacutinga) e a pesca (traíras de 3 a 7 quilos) eram tão abundantes que garantiam a subsistência de forma quase imediata.
Um pioneiro entrevistado por Lucas ilustra essa fartura de maneira vívida, contrastando a facilidade de obter alimento com as outras dificuldades da vida no sertão:
Não, disse êste honrado e velho pioneiro, pois, os sertões eram virgens em todos os sentidos e as suas extensões intermináveis, e a carne que formava a base de nossa alimentação, era abundante e boa. Era só receber o aviso da cozinha que a carne acabara, quando empunhava meu pau de fogo, aliás uma belíssima espingarda alemã, de 2 canos, bala e chumbo e, o mais tardar uma hora após ter recebido o recado, eu jogava sôbre a mesa, tôsca mas farta, ou um belo exemplar de macuco ou de jacutinga, ou ambos, conforme a sorte.
Sob a lente da História Ambiental, essa abundância alimentou o "mito da natureza inesgotável". Mais do que uma simples percepção, este mito funcionou como uma poderosa ferramenta ideológica: justificava a mentalidade extrativista dos colonos e obscurecia as consequências ecológicas de longo prazo de suas ações, que levariam muitas espécies à rarefação nas décadas seguintes.
Apontamento 2
Diferentemente de Blumenau e Brusque, cujas fundações foram projetos coloniais planejados e financiados pelo governo, Rio do Sul nasceu de forma orgânica, quase acidental. Victor Lucas é enfático ao afirmar que a cidade não teve um "ato solene", com discursos e registros oficiais. A ocupação começou com "movimentos isolados, tentativas heroicas e temerárias" de sertanistas e descendentes de imigrantes que avançavam pelo território por conta própria.
Essa origem não planejada é perfeitamente ilustrada pela controvérsia sobre a "primeira casa". O relato aponta que a moradia de Basílio Corrêa de Negredo, erguida por volta de 1895, era uma "simples palhoça", uma estrutura provisória. Já a de José Vicente, construída em 1897, é considerada a "primeira casa - verdadeira", com os requisitos mínimos de uma moradia. Essa distinção revela que a fundação não foi um evento único, mas um processo gradual, feito de tentativas, avanços e recuos.
Essa narrativa de uma origem "acidental" também reforça o "sertão" como uma construção cultural: uma ideia que apresenta o território como vazio, desorganizado e à espera de ordem. Ao enfatizar o caráter não planejado da ocupação, essa visão, mesmo baseada em fatos, serviu para apagar a presença indígena anterior e justificar a apropriação como uma expansão natural, quase biológica, em vez de uma invasão planejada. A cidade, portanto, não foi "fundada" em um único ato; ela emergiu de um processo caótico e adaptativo de interação entre seus habitantes e o ambiente.
Apontamento 3
A narrativa heroica do pioneiro frequentemente omite um fato crucial: o abandono completo por parte do Estado. Enquanto os colonos de Blumenau e Brusque receberam apoio governamental com financiamento, terras, ferramentas, escolas e até proteção armada, os que se aventuraram no Alto Vale do Itajaí foram deixados à própria sorte. Não havia assistência médica para combater a malária, auxílio durante as enchentes devastadoras ou qualquer tipo de proteção.
O ponto mais contraintuitivo, no entanto, é que a ação do governo em outras regiões não apenas não ajudou, como agravou a situação em Rio do Sul. Ao destacar pelotões armados para "proteger" os colonos do litoral, o Estado empurrou os povos indígenas para o interior. Como explica Lucas, isso intensificou a tensão no território que se tornaria Rio do Sul:
...êstes ainda sofriam o agravamento da situação, provocado pelo deslocamento dos índios ou bugres, empurrados para o planalto pelos citados pelotões armados, e que aqui se moviam livremente, vingando ataques recebidos na zona do litoral...
Dessa forma, o Estado deixou de ser uma figura meramente ausente para se tornar um agente indireto do conflito, transformando a região em uma zona de refúgio forçado e, consequentemente, em um campo de batalha ainda mais intenso.
Apontamento 4
A ideia de uma "floresta virgem" ou de uma "selva vazia" que aguardava a chegada dos colonizadores é um dos mitos mais persistentes e problemáticos da história regional. A análise do texto de Victor Lucas mostra que esse território, longe de ser vazio, era um espaço de vida e domínio ancestral dos povos indígenas. A "natureza intocada" era, na verdade, um ambiente profundamente conhecido, manejado e habitado.
O próprio Lucas, mesmo escrevendo sob a ótica do colonizador, reconhece que o conflito não era um ataque unilateral a invasores indefesos, mas uma reação legítima à expropriação territorial. Ele descreve a resistência indígena como uma defesa de seu espaço de vida:
...defendendo, heroicamente, aquilo que, durante milênios, fôra do seu domínio absoluto e indisputado.
O que ocorreu no Alto Vale do Itajaí foi um clássico "conflito ambiental", o choque violento entre dois metabolismos socioambientais irreconciliáveis. De um lado, o sistema indígena, baseado na territorialidade, na mobilidade e na coexistência dentro do ecossistema. Do outro, o sistema colonial, predicado na conversão da terra em propriedade privada e da natureza em mercadoria. A colonização não apenas ocupou um espaço, mas impôs à força um novo modelo de relação com o ambiente, destruindo o sistema ecológico e social que existia anteriormente.
Apontamento 5
Para o colono de Rio do Sul, a natureza tinha uma dupla face. Por um lado, era a aliada generosa que garantia a sobrevivência. Como vimos no primeiro ponto, sua abundância de fauna e a fertilidade dos solos ribeirinhos impediram a fome e viabilizaram a ocupação inicial. A natureza era a despensa e o alicerce da vida.
Por outro lado, era uma inimiga implacável e uma fonte constante de perigo. O mesmo ambiente que alimentava também matava. Lucas detalha as múltiplas ameaças: os ataques de ofídios, com suas "mordidas, geralmente de conseqüências terríveis e, às vêzes, fatais"; as doenças, como a malária, "que tantas resistências quebrara"; e os fenômenos climáticos. O poder dos rios era especialmente ambíguo: as mesmas vias que serviam de transporte e cujas margens eram estratégicas para as moradias se transformavam em forças devastadoras durante as cheias, que isolavam famílias por semanas, deixando-as "encurraladas, sem meios de buscar socorro".
A história da colonização é, portanto, a história de uma negociação violenta com uma natureza de dupla face: a aliada generosa que garantia a vida e a inimiga implacável que impunha limites brutais à ambição humana.
Concluindo, a história da fundação de Rio do Sul, vista através de relatos como o de Victor Lucas, é muito mais do que um conto de heroísmo pioneiro. Ela é um estudo de caso sobre o metabolismo socioambiental da colonização: um processo violento de abandono, conflito e adaptação, no qual a natureza era, simultaneamente, provedora e aniquiladora. Desvendar essas camadas não diminui a resiliência dos que aqui chegaram, mas nos oferece uma visão mais honesta e completa do nosso passado, reconhecendo os custos ecológicos e humanos dessa transformação. Ao olharmos para nossas próprias cidades, que outras histórias – sobre a natureza, os conflitos e os povos silenciados – ainda estão escondidas sob o asfalto e as narrativas oficiais? A história regional é um prato cheio para estudos de História e História Ambiental.
A propósito, se olharmos para a própria história do curso de História da Universidade Regional de Blumenau, ela surge com esse propósito, inclusive afirma ter sido criado para compreender a geohistória do Vale do Itajaí, ou seja, a sua História Ambiental.... mas essa é uma outra discussão. Se gostou do texto, comenta aí. Se quer ter acesso ao documento que analisamos clique aqui.
Referência
LUCAS, Victor. Flagrantes da história de Rio do Sul. Blumenau em Cadernos, Blumenau, n. 11, tomo II, p. 201–205, nov. 1959.
Este texto foi revisado, corrigido e sofreu alterações realizadas com o IA.